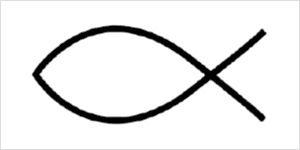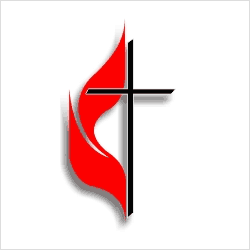Capítulo 1 — Os crentes e o mundo e o mundo dos crentes
Se você é do mundo então você não faz parte do mundo dos crentes, considerando-se o que a expressão “o mundo” significa para eles.
As passagens bíblicas que explicam o que estou falando são várias, mas basta esta:
João 15:18 Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.
João 15:19 Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia.
Dizer que alguém “não é deste mundo” pode ter diversas conotações, mas geralmente usamos esta expressão para nos referir a outro cujos hábitos o distinguem em muito da média em um ou mais aspectos. Quando os crentes dizem que alguém não é deste mundo estão falando deles mesmos.
Assim como os homens são de Marte e as mulheres de Vênus, os crentes creem habitar um planeta diferente do nosso, cujas coordenadas astronômicas só eles conhecem, mas dizem situar-se numa dimensão chamada de “espiritual”.
Você pode conviver diariamente com crentes, trabalhar com eles, tê-los como vizinhos ou co-participantes de alguma atividade social, mas se você se considera um simples habitante do planeta Terra, sem pretensões a uma dupla cidadania cósmica, então mesmo o crente mais moderado o verá como representante do mundo que ele acredita odiar, o que inspirará nele, no mínimo, alguma cautela no trato com você.
Isto não implica que amizades entre crentes e não crentes sejam impossíveis, mas a amizade dedicada a um do mundo será, quase sempre, de natureza muito diferente daquela dedicada aos do mundo deles.
Esta restrição temerosa dos crentes ao mundo e tudo que vem dele, inclusive você, é a primeira barreira que dificulta as tentativas de entendê-los. Além de primeira, é a barreira mais difícil de transpor, uma vez que não é pessoal. Você pode ser a melhor ou a pior pessoa do mundo, para os crentes não importa. Se você é do mundo, para eles é um alienígena.
O único modo de alguém do mundo penetrar o mundo dos crentes é deixando o próprio. Como não emitem vistos de turista para o mundo deles, o único jeito de penetrá-lo é mudando-se para lá em definitivo, o que significa conversão.
Para quem a conversão não está nos planos, o mundo dos crentes pode ser conhecido apenas pela observação de fora, o que, como os astrônomos amadores sabem, exige técnica e equipamento adequado, sem os quais a observação traz por resultado antes um anedotário pitoresco do que conclusões plausíveis.
Como poucos dentre os do mundo dispõem desta habilidade ou recurso, mesmo porque a maioria tem mais o que fazer, o mundo dos crentes lhes é tão misterioso quanto os planetas de outros sistemas estelares. Perceptíveis por suas interações, mas invisíveis quanto aos seus aspectos interiores.
Capítulo 2 — A Guerra dos Mundos
A aspiração dos crentes de se apartarem do que chamam “o mundo” já dificulta, por si só, o entendimento deles por quem não vê problema em ser um simples terráqueo.
Mas o mundo não é coisa fácil da qual se apartar e, gostem ou não, os crentes têm que viver nele e conviver com o que dele é.
Na vida cotidiana os crentes têm que interagir com “o mundo”, cuja rejeição plena em prol de uma crida realidade mais alta só seria possível se o pio se tornasse um João Batista moderno, morando no deserto e comendo apenas gafanhotos e mel silvestre, alternativa que não é acolhida com entusiasmo naquela comunidade.
O grau de concessão ao mundano que os crentes têm como doutrinariamente admissível varia da rigidez dos legalistas conservadores, que são contra quase tudo que não tenha o selo de garantia da Igreja, aos liberais, que toleram até aquela coisa esquisita que é o white metal.
Sempre achei estranho nunca ter conhecido um crente, seja lá de que vertente fosse, que rejeitasse a coisa mais mundana de todas, o dinheiro. Mas eles certamente têm alguma explicação bíblica para isto.
Se a dicotomia de rejeitar o mundo e ainda assim viver nele é difícil para muitos crentes, é ainda mais confusa para quem não consegue entendê-los, já que, neste quesito, a diferença entre o discurso e a prática dos religiosos imita o nativo da anedota, que se veste e comporta como turista por conta de uma insatisfação crônica com suas próprias origens.
Embora os crentes costumem reagir a estes comentários acusando a impiedade de quem os coloca, o fato é que eles próprios são divididos e conflitantes quanto a esta questão.
Um bom exemplo disto é o confronto entre os crentes radicais, defensores do isolacionismo, e os simpatizantes do chamado mundo gospel. O primeiro grupo quer segregar seus fiéis do mundo mantendo-os a maior parte de seu tempo livre dentro das igrejas ou a serviço delas, enquanto o segundo se propõe a criar fora de seus templos um mundo de mentirinha e imitação, que estaria protegido das tentações do mundo real pela aplicação de algumas regras da igreja a atividades que absolutamente nada têm a ver com ela.
É este mundo gospel que gera, além da música insuportável, exotismos como a boate gospel, o bar gospel e a balada gospel.
A existência ou não de sentido lógico em chamar de bar um local cujo apelo de público é não vender nenhuma bebida alcoólica é um problema dos crentes, não meu. Mas se o objetivo deste manual é esclarecer pontos que dificultam aos não crentes entendê-los, esta é uma das coisas que mesmo observadores atentos têm dificuldade de explicar.
É difícil para os céticos compreender o mundo dos crentes também porque suas divergências internas o fazem de difícil compreensão até para os próprios.
Capítulo 3 — O Homem Natural
Se algum crente porventura leu este Pequeno Manual até aqui, é muito possível que julgue seus conteúdos como sendo a manifestação do Homem Natural, que Paulo define em I Coríntios 2:14 como sendo aquele “que não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente”.
Esta predisposição comum nos crentes a ter como falta de discernimento toda opinião discordante daquela oficializada pela doutrina de sua facção religiosa é um obstáculo típico no caminho daqueles que tentam entendê-los.
Entender um grupo humano é, essencialmente, resultado da observação e comunicação. Os crentes são difíceis de entender, primeiro porque não é fácil observá-los de fora de seu mundo próprio e exclusivo, criado para segregá-los do “mundo” habitado pelos demais mortais, como vimos nos capítulos 1 e 2 deste Pequeno Manual. Em seguida, porque existe uma tendência forte de que qualquer tentativa de comunicação seja distorcida pelo modo como aplicam a citação bíblica do Homem Natural aos seus relacionamentos com quem não professa crença idêntica a deles.
Um processo de comunicação é bem sucedido principalmente quando os dois lados que tentam se comunicar têm por objetivo que a outra parte os entenda. Nesta condição, não ser entendido representa um fracasso, recebido com frustração pelos interlocutores envolvidos.
Esta regra nem sempre vale na comunicação com os crentes, que frequentemente atribuirão o fato de não serem entendidos à falta de discernimento espiritual do interlocutor não crente, que será então de imediato classificado como Homem Natural, a quem responsabilizarão pelo fracasso do processo de comunicação. Fracasso este que, não raro, será interpretado pelo crente como a prova de seu acesso a saberes superiores, inalcançáveis a quem não é iniciado na arte e ciência do discernimento espiritual.
A ironia desta visão que alguns crentes adotam de terem-se como discernidores do conhecimento que conduz à salvação reside nela ser quase a mesma professada pelos adeptos da heresia Gnóstica, semelhança que qualquer crente desconjuraria com todas as forças, se apresentada a ele. No entanto, é o que ocorre.
De qualquer forma, entender um grupo é sempre mais difícil quando este grupo considera o fato de não ser entendido como um sinal da tribo ou uma marca dos eleitos. Isto não é uma doutrina oficial entre os crentes, claro. Mas o sentimento existe, mesmo que muitas vezes não seja perceptível a quem os observa de dentro da própria comunidade que a expressa. E quando percebido, raramente se admite.
As alusões à falta de discernimento do Homem Natural feita pelos crentes diminuiriam consideravelmente (e entendê-los seria mais natural) se se dessem conta de que suas doutrinas são de compreensão óbvia para qualquer um que conheça as premissas dogmáticas nas quais baseiam suas interpretações dos textos bíblicos. Estas premissas podem ser rastreadas nas diversas fontes que contam a História do Cristianismo.
Esta possibilidade de o entendimento pleno das doutrinas religiosas ser alcançado por metodologias seculares de raciocínio não tem nenhuma importância teológica, já que I Coríntios 2, onde Paulo define o Homem Natural, é justamente uma crítica a estas metodologias, que o apóstolo considera inferiores à sensibilidade espiritual.
O problema reside no fato de que doutrinas religiosas também são produto de metodologias seculares de raciocínio, sistemas de ideias codificadas a partir de textos aceitos como revelação divina. A prova disto é o fato de a mesma revelação ser tida como base de uma miríade de doutrinas conflitantes entre si. Claro que todo crente possui um estoque considerável de argumentos para defender que a doutrina que segue é a única que provém do correto discernimento espiritual das escrituras, enquanto todas as demais são apostasias ou heresias. Mas se todas as doutrinas se dizem espiritualmente discernidas, o único modo de separar o joio do trigo (como eles dizem) é identificando incoerências doutrinárias onde elas se mostram. Identificar incoerências é função da lógica, que dispensa a iluminação transcendente para operar.
Em última instância, é o Homem Natural que há dentro de todo crente que julga qual doutrina lhe parece mais coerente. Na melhor das hipóteses.
Capítulo 4 — A Hierarquia Espiritual
Entender os crentes (ou qualquer outro grupo) passa necessariamente pela compreensão de sua hierarquia. Como os crentes, em tese, rejeitam “o mundo” e o Homem Natural que o habita, sua hierarquia é, ainda em tese, espiritual.
O topo desta hierarquia espiritual é ocupado (claro) pelos próprios crentes, de acordo com sua condição de salvos, santos, eleitos, sal da terra, luz do mundo e outros títulos tais que usam para se identificar entre si. Logo abaixo vêm os ímpios teístas, aqueles que professam alguma fé religiosa diferente da dos crentes. Seguem-se, muito mais abaixo na tal hierarquia, os ímpios céticos, agnósticos e ateus. No fundo do poço da hierarquia espiritual dos crentes estão aqueles a quem chamam de escarnecedores, os que rejeitam taxativamente sua pregação doutrinária.
Esta divisão não é lá muito relevante quando lembramos que ela pode ser resumida em apenas duas categorias — os que vão para o Céu e os que não, sendo claro na doutrina dos crentes quem é quem quanto a estas destinações.
Menos óbvio é como a hierarquia espiritual divide os crentes dentro de seu próprio mundo. Em que patamar o crente se encontra na escala de méritos definida por sua doutrina tem grande importância para eles, pois é isto que definirá o seu galardão celeste, ou seja, o status que ocuparão no paraíso como recompensa de suas boas obras terrenas.
Dentro da peculiar interpretação dos crentes do que seria justiça divina, as boas obras dos ímpios não os livrarão do inferno, mas as boas obras dos crentes podem garantir a eles um paraíso melhor que o dos outros salvos. Fica a dúvida de como paraísos podem ser melhorados. Em tempo, ainda pela interpretação deles, as más obras dos crentes serão simplesmente perdoadas e esquecidas.
Estar bem situado na hierarquia espiritual é importante para o crente porque, em suas crenças, isto lhes garantirá vantagens eternas muito superiores a qualquer benesse desfrutável no mundo. Não que eles desprezem estas benesses, claro.
Isto fica óbvio quando observamos que a hierarquia espiritual não significa para o crente apenas uma promessa de recompensas futuras no post-mortem, mas também mais respeito e reconhecimento social entre os seus, aqui neste mundo, mesmo.
Este destaque junto aos seus pares pela exibição de dotes espirituais superiores se torna particularmente visível entre os crentes pentecostais, onde tais dotes podem ser quantitativamente medidos pela exibição pública dos chamados dons do Espírito Santo (sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las).
Isto gera uma não declarada competição entre os congregados pentecostais para firmar posição na hierarquia espiritual, seja contando com zelo às vezes em que falou em línguas, seja soltando, vez por outra, profecias (geralmente vagas) que arrolem testemunhas para os pontos ganhos que lhe somam distância do Homem Natural, de quem querem estar bem longe.
Isto, em parte, explica a cena tão típica naquelas igrejas, onde crentes enfileirados vão caindo ao chão, como pedras de dominó, ao serem ungidos pelo toque do pastor, que proclama então que o Espírito Santo bate ponto no templo por ele presidido. A explicação mais simples, admitida por alguns crentes (sempre longe dos ouvidos de seus irmãos, claro), é que ficar em pé após a receber a unção, enquanto todos os anteriores caíram, seria assinar uma confissão de ser “pouco espiritual”, o que poderia levantar dúvidas quanto à sinceridade de sua conversão, pondo em risco a aceitação e apoio que aquele grupo lhe oferece e dos quais tantos de seus frequentadores dependem, em vários sentidos.
A hierarquia espiritual dos crentes serve a muitos propósitos, desde o de situá-los em uma elite dentro de uma escala de requisitos criada por eles próprios, até funcionar como meio subjetivo de controle da disciplina congregacional.
Assunto do próximo capítulo.
Capítulo 5 — O fator Borg
Os crentes têm uma espécie de consciência coletiva, decorrente de um princípio doutrinário que os proíbe de provocar escândalo em seus irmãos. Assim, não basta ao crente preocupar-se com sua própria consciência — a certeza íntima de que faz aquilo que considera certo —, pois a ele é imposto preocupar-se também com a consciência do grupo — o que a congregação considera certo, sem o que corre o risco de provocar escândalo em seus pares e assim, nos termos da sentença bíblica lavrada em Lucas 17, ser por eles lançado ao mar com uma pedra de moinho atada ao pescoço, mesmo que metaforicamente.
Crentes não podem fazer coisas que escandalizem outros crentes, o que é um problema sério para eles, uma vez que alguns crentes se escandalizam com tudo e com qualquer coisa, restringindo muito o universo comportamental dos irmãos de crença que se encontram ao alcance de seus vigilantes olhos.
Como os crentes se dividem em miríades de facções, cada uma com seus próprios regulamentos sobre usos e costumes — mais rígidos ou mais liberais conforme cada vertente —, satisfazer a ordem bíblica de não escandalizar é uma proeza quase irrealizável, uma vez que crentes de denominações liberais, que, por exemplo, não proíbem suas mulheres de usar calças compridas, têm mesmo assim que avaliar como este hábito afeta outros crentes que acham um escândalo mulheres crentes saírem à rua cobertas por outra coisa que não vestidos e saias no comprimento devido.
Esta obrigação de manter as aparências dentro de seu próprio mundo leva os crentes a uma relação dúbia com o mundo exterior, aquele no qual admitem estar, mas ao qual se recusam a pertencer, como exposto nos capítulos 1 e 2 deste Pequeno Manual.
Se “o mundo” é para eles o repositório de tudo que afasta da salvação, é também um refúgio onde podem relaxar do autopoliciamento que precisam manter enquanto no convívio de outros crentes, haja vista que suas normas doutrinárias não estabelecem que devam se abster de provocar escândalo nos ímpios (há regras quanto ao “bom testemunho”, mas esta é outra história). Pelo contrário, fora da irmandade é esperado por eles que, invertendo-se a situação, os ímpios se escandalizem com o que é santo. É por isso que ateus, agnósticos e céticos tendem a estranhar o quanto certos crentes mostram-se muito mais, digamos, soltos, em ambientes não religiosos (ou mesmo antirreligiosos) do que em seus próprios, mesmo quando amaldiçoam tais ambientes com as ameaças de praxe — como a de bater o pó dos pés ao sair dali.
A prevenção do escândalo é um dos pilares da disciplina congregacional que se impõe sobre todos os crentes, com maior ou menor rigor ou vigilância conforme a facção, mas inevitável e inquestionável por quem pertença a uma de suas congregações.
O modo como os crentes definem e aplicam a disciplina congregacional é muito diferente do que ocorre com os Católicos Romanos, por exemplo, que também se submetem à autoridade da Igreja, mas conforme clara e textualmente estabelecido no Direito Canônico, que só pode ser aplicado por autoridades eclesiásticas especialistas.
Crentes seguem apenas seu entendimento dos textos bíblicos, que, segundo eles, dão a qualquer fiel o direito de repreender outro que os tenha ofendido — ou escandalizado, segundo sua própria ideia do que venha a ser ofensa ou escândalo. Estes desencontros podem simplesmente resultar num reconhecimento do erro e pedido de perdão de um crente mais amistoso, como pode desembocar numa bizantina discussão sobre interpretações bíblicas, a ser levada ao arbítrio do pastor.
Se alguém pensou que isto deve dar em confusão, acertou. Por isto normalmente os crentes preferem fugir do litígio com os seus, já que se um crente liberal é flagrado, comprando um CD da Xuxa, por um crente conservador, que acha que a loura é “do diabo”, o fim da picuinha pode ser uma guerra de denominações, caso os pastores representantes de cada lado não cheguem a um acordo sobre existir ou não evidência bíblica contra o Ila ila ilariê ô ô ô.
É neste imbróglio que a consciência coletiva dos crentes se forma e atua. Numa sociedade religiosa fortemente baseada na precedência do mútuo, real ou pró-forma, as opiniões e comportamentos tendem a se alinhar na média considerada aceitável pelo coletivo. Daí a imagem comum (e incorreta) que se têm dos crentes como todos iguais.
De fato assim parecem, quando vistos de longe. Mas uma maior aproximação das lentes revela o que se oculta por trás da uniformidade aparente.
Capítulo 6 — Doublethink
A citação ao doublethink, expressão cunhada por George Orwell em seu romance 1984, é um tanto desgastada, mas algo obrigatória em um Pequeno Manual cujo objetivo é ajudar o leitor a compreender os crentes, dado o uso comum do termo para se aludir a doutrinas cuja aceitação depende da crença simultânea em ideias opostas entre si.
Como visto nos capítulos anteriores, os crentes administram sua crença doutrinária em meio a um emaranhado de contradições:
- Rejeitar o mundo e fazer parte dele;
- Negar o homem natural e saber-se um;
- Confessar-se pecador e almejar-se santo;
- Conflitar-se individualmente e ajustar-se coletivamente.
Há, entre os crentes, quem negue a existência destas contradições apelando a algum tipo de dialética teológica, mas a maioria — que não é versada nem em dialética, nem em teologia — nega as contradições simplesmente suprimindo o conflito de pensamentos delas resultante, uma espécie de sublimação do racional pela Fé e em proveito dela.
O doublethink é, portanto, um processo que traduz o contraditório em coerente, a partir das chaves decodificadoras definidas pela doutrina. Sem a posse destas chaves decodificadoras, o que é claramente lógico para um crente mostra-se um absurdo inaceitável para quem não o é.
Alguns versículos bíblicos exercem esta função de chaves decodificadoras do doublethink, como I Coríntios 2:14, já citado no capítulo 3 deste Pequeno Manual, que propõe que as coisas do espírito parecem loucura quando não discernidas espiritualmente. A interpretação correta da passagem não permite identificar um conteúdo orwelliano na mensagem do apóstolo, mas há crentes que recorrem àquelas palavras de Paulo sempre que alguma contradição logicamente irrefutável é apontada em suas doutrinas.
Um exemplo de doublethink é o modo como os crentes encaram o inferno. A maioria deles o interpreta como um local físico onde as almas dos ímpios serão atormentadas eternamente. Ficam fora deste grupo os Adventistas do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová e algumas outras facções aniquilacionistas, que acreditam que a extinção, ao invés do sofrimento eterno, será a punição dos não salvos. Mas o lago de fogo e enxofre é a ideia predominante no meio crente, com muitos crendo nesta descrição ao pé da letra. Até aí temos apenas um preceito doutrinário. O que motiva o doublethink é a questão de como os crentes poderão ser eternamente alegres e felizes no paraíso, sabendo que seus entes queridos não convertidos estão sendo torturados por toda a eternidade.
Muitos crentes têm pais, filhos, irmãos, cônjuges ou parentes e amigos muito próximos não convertidos. Que pai poderia ser feliz sabendo que seu filho queima eternamente? Pelo menos que pai digno de ser chamado assim.
A retórica apologética produziu diversos discursos e teses para tentar explicar esta questão, algumas exóticas ao extremo, como a que defende que os salvos terão apagadas de suas memórias as lembranças dos entes queridos que não tiverem o mesmo destino deles.
Mas não é isto que está em discussão, mas como em suas consciências íntimas os crentes resolvem o dilema “poderei ser feliz no paraíso se meus pais, cônjuge ou filhos estiverem no inferno?”
A maioria simplesmente não resolve. Apenas nega que o dilema exista. Limitam-se a aceitar que no Céu serão felizes enquanto seus amados não crentes queimam eternamente. Ou seja, doublethink. Já que é da natureza do amor humano que o sofrimento da pessoa amada faça sofrer também a pessoa que a ama. Além do que, a indiferença diante do sofrimento alheio não é considerada uma virtude nem neste mundo, mas render-se a esta indiferença é condição sine qua non para que o paraíso, como definido pelas doutrinas crentes, de fato o seja. Que dizer de um paraíso que depende da morte da compaixão para existir?
É comum crentes citarem, como resposta a questionamentos como este, a passagem abaixo:
Romanos 9:20 Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus?! Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim?
Romanos 9:21 Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro, para desonra?
Dentro de seu devido contexto, a citação tem significado mais amplo. Quando usado como alternativa ao questionamento de contradições doutrinárias torna-se mais um exemplo de doublethink.
Capitulo 7 — Mitos, ritos e símbolos I
Mitos
Entender um grupo é, essencialmente, entender sua cultura, o que exige o entendimento dos mitos, ritos e símbolos que a constituem.
Os crentes possuem uma cultura própria. Não a cultura cristã propriamente dita, que representa para a cultura crente o que o Latim representa para as Línguas Românicas.
Dada a fragmentação dos crentes em uma miríade de denominações, muitas delas subdivididas em diversas vertentes, o olhar externo as identifica, a princípio, como um conjunto não uniforme de subculturas e microculturas derivadas da tradição cristã, semelhantes entre si por alguns pontos em comum e diferenciadas umas das outras por muitos pontos de divergência.
As fronteiras do que seria uma cultura comum a todos os crentes começa a ser delineada quando identificados os mitos, ritos e símbolos que são comuns a todas as facções ou à grande maioria delas, com destaque para o papel dos mitos.
Como é esperado que os crentes desconjurem qualquer associação de suas crenças a mitos, palavra que para muitos deles é sinônimo de mentira pura e simples, abro um parêntese para comentário de Francisco Campos sobre a veracidade dos mitos, aqui aplicável:
“Não tem sentido indagar, a propósito de um mito, do seu valor de verdade. O seu valor é de ação. O seu valor prático, porém, depende, de certa maneira, da crença no seu valor teórico, pois um mito que se sabe não ser verdadeiro deixa de ser mito para ser mentira. Na medida, pois, em que o mito tem um valor de verdade, é que ele possui um valor de ação, ou um valor pragmático.”
Assim, trabalhamos aqui com a definição de mitos como explicações primitivas da realidade, particularmente das origens do que é real, não sendo do escopo questionar a veracidade histórica ou científica dos mitos apontados, mesmo porque, segundo certas fontes, tal questão não é da competência dos ramos do conhecimento citados.
Finde-se o parêntese com o reconhecimento de que este Pequeno Manual não tem a pretensão de aprofundar-se na análise dos mitos, ritos e símbolos que delineiam uma cultura, estudo que exigiria ferramentas de pesquisa mais sofisticadas que a simples observação e conhecimentos mais especializados que os possuídos pelo autor.
Dito isto, o mito aceito por todos os crentes, abrangendo todas as doutrinas de todas as facções (e de todas as dissidências destas facções), é o da inerrância e suficiência da Bíblia. Desconheço um único crente que negue este mito, embora não conheça um que o defina como tal.
É a adoção do mito da inerrância e suficiência da Bíblia que contorna o conjunto das subculturas e microculturas dos crentes, estabelecendo a fronteira mais extensa e completa do que seria a cultura deles em si.
O mito da inerrância e suficiência da Bíblia tem enunciado simples:
Inerrância: A Bíblia é isenta de erros em tudo que afirma;
Suficiência: A Bíblia contém toda a informação necessária para a vida do crente.
O mito da inerrância e suficiência da Bíblia é particularmente relevante na compreensão dos crentes porque impõe limites à própria cosmovisão e cultura dele derivados, enquanto outros mitos orientam o desenvolvimento de uma cultura, estabelecendo as bases de uma cosmovisão em torno da qual os elementos formadores da cultura se agregam e conciliam.
Mitos representam portais de estrada. Marcam o início e o sentido de um processo de formação da cultura. O mito da inerrância e suficiência pretende ser não apenas o portal, mas também os muros que delimitam solidamente as linhas que não podem ser ultrapassadas pela cultura formada.
É neste contexto que os crentes correm a Bíblia para buscar nela a resposta para qualquer problema ou dúvida, fiéis ao mito de que o Livro contém todas as respostas, obrigatória e necessariamente, e também à extensão do mito, que sentencia que qualquer resposta não contida nela é obrigatória e necessariamente errada.
No extremo da fidelidade ao mito da inerrância e suficiência estão os fundamentalistas literalistas, cuja facção extremista autodenominada de criacionistas científicos tenta encontrar nos textos bíblicos a resposta para questões astrofísicas, biológicas e geológicas, só perscrutáveis fora desta comunidade pela pesquisa experimental avançada.
O mito da inerrância e suficiência da Bíblia se demonstra como mito a partir do fato de que não pode ser demonstrado lógica ou cientificamente.
Para que o mito da inerrância e da suficiência da Bíblia fosse demonstrado lógica ou cientificamente seria necessário que esta demonstração se baseasse total e exclusivamente na própria Bíblia, sem o que a definição de suficiente seria contradita pela lógica, uma vez que em sendo a lógica proveniente da filosofia grega, qualquer demonstração lógica — e por extensão científica — da Bíblia necessariamente apelaria a informações não contidas nela, contradizendo portanto o princípio da suficiência.
Restaria a explicação doutrinária, de que a Bíblia se demonstra pela inspiração do Espírito Santo, que em sendo também esta externa à Bíblia, leva à conclusão de que ela é incapaz de demonstrar-se logicamente por si só.
Um exemplo ilustrativo é o fato de que nenhum dos livros da Bíblia cita quais livros deveriam compô-la, provando assim que a Bíblia não pode ser tida como suficiente sequer para explicar sua própria composição.
Outro exemplo é a retórica doutrinária usualmente apresentada como refutação às contradições bíblicas. Muitas destas refutações retóricas baseiam-se em informações obtidas da historiografia secular (cuja fidelidade às fontes primárias não cabe discutir aqui). Mesmo que esta retórica salvaguardasse o mito da inerrância, o que no geral não faz, contradiz o mito da suficiência, pois recorre ao extra—bíblico para provar a inerrância.
Por fim, todas as doutrinas crentes baseiam suas interpretações da Bíblia em alguma forma de teologia, que, em sendo filosofia especialista, soma-se às demais evidências da caracterização mitológica da inerrância e suficiência.
O mito da inerrância e suficiência bíblica, portanto, só se demonstra em seu próprio universo mítico, no qual a lógica não é requerida ou aplicável. Por tudo isto é o grande mito unificador dos crentes, fonte de sua cultura e a principal chave para seu entendimento.
Capítulo 8 — Mitos, Ritos e Símbolos II
Ritos
Um exercício simples que permite aferir a importância dos ritos na formação da identidade de um grupo social é tomar como exemplo as organizações militares. Caso um civil se infiltrasse em um quartel disfarçado como um de seus conscritos seria desmascarado em seus primeiros contatos com militares verdadeiros, mesmo que portasse documentos e uniformes absolutamente autênticos da corporação. Isto porque nenhum civil domina a extensa ritualística oficial e extra-oficial que orienta todas as interações sociais na caserna, com ritos específicos a serem cumpridos junto aos pares, superiores e subordinados. Mesmo que nosso civil infiltrado decorasse os regulamentos disciplinares aplicáveis, seria denunciado por desconhecer as regras não escritas — mas tão válidas quanto — que estabelecem as diferenças sutis que há, por exemplo, entre a continência prestada a um sargento e a prestada a um oficial graduado, diferenças estas não definidas em nenhum manual militar, mas prontamente conhecidas e reconhecidas por todos os membros daquela comunidade, desde o último recruta até o general-comandante.
Ritos são mais frequentemente apontados em irmandades iniciáticas, como a Maçonaria, cujas especulações sobre o que fariam com certo bode despertam risos nos maçons e escândalo nos crentes. Mas os ritos estão presentes em todos os estratos de qualquer sociedade, sendo fator primordial para estabelecimento da coesão do grupo.
Fica claro que é necessário entender os ritos de um grupo para entender os mecanismos de interação e coesão de seus membros. Como o objetivo deste Pequeno Manual é entender os crentes, é necessário entender seus ritos. E os crentes são muito ritualísticos, embora muitos não admitam isso.
Numa sociedade organizada existem ritos para tudo, que de certa forma traduzem para o cotidiano, na forma de cerimônias e regras, os mitos formadores da cultura dominante. Alguns ritos são comuns a quase todas as sociedades:
- Ritos de Iniciação: oficializam a entrada de um novo membro no grupo;
- Ritos de Passagem: oficializam uma mudança de status do membro dentro do grupo;
- Ritos de Integração: reforçam a coesão e identidade dos membros do grupo.
Entre os crentes, como entre os militares, há que se diferenciar entre a forma e o conteúdo do rito, entre suas regras formalmente estabelecidas e seus significados intuídos. Da mesma forma que ninguém se passará facilmente por militar sem levantar a desconfiança dos verdadeiros, dificilmente um não-crente conseguiria se infiltrar em uma congregação sem que sua condição de ímpio seja logo percebida pelos fiéis de fato. Não que tenham alguma percepção mística dos recônditos mais íntimos da alma do hipotético impostor, mas porque não é possível dominar a ritualística crente sem um longo processo de iniciação.
Embora todos os crentes afirmem de pés juntos que todos os seus ritos têm base bíblica, o fato é que a Bíblia define a forma dos ritos, enquanto uma rede de influências sócio-culturais e ideológicas diversas definem seus conteúdos, muitos deles com significados sutis que nada têm a ver com qualquer preceito nas Escrituras — as tais regras não escritas.
Se considerado apenas o formal, os principais ritos crentes são cerimoniais cristãos:
- Ritos de iniciação: Apelo à conversão, recepção aos convertidos;
- Ritos de passagem: Batismo, casamento;
- Ritos de integração: Culto, reunião, ritos de convívio social.
Estes ritos podem ser formalmente encontrados com os mesmos ou outros nomes em todas as facções cristãs, com algumas diferenças de interpretação, como o batismo, que é um rito de iniciação (e não de passagem) para os católicos romanos.
Mas há um componente nos ritos cerimoniais crentes que lhes dá sua característica própria e exclusiva — o testemunho.
O testemunho é típico dos crentes, um rito de integração que se manifesta nos demais ritos cerimoniais e ajusta a consciência individual do membro à consciência coletiva da congregação (e vice versa), como citado no capítulo 5 deste Pequeno Manual.
Os conteúdos explícitos dos testemunhos não indicam a totalidade e complexidade de seu significado dentro da ritualística crente, já que a grande maioria deles segue o formato padronizado do clássico testemunho de conversão redentora:
Narrativa da vida pré-conversão, momento crítico, epifania, conversão, narrativa da vida pós-conversão, desfecho apologético e de louvação.
Seguem a mesma fórmula outros testemunhos tradicionais:
- Testemunho de cura milagrosa;
- Testemunho de milagre espetacular;
- Testemunho de pequeno milagre cotidiano;
- Testemunho de intervenção divina providencial;
- Testemunho do castigo divino como instrumento de disciplina, correção e santificação;
- Testemunho do filho pródigo (dos que abandonaram a congregação e retornaram a ela. É o testemunho de conversão acrescido da narrativa das mazelas da apostasia).
Todos iniciam com uma narrativa que avança para um momento crítico e culmina em uma epifania seguida de redenção ou dádiva, concluindo com apologia e louvor cristão.
Uma situação em que fica clara a dificuldade de céticos e ateus entenderem os crentes é a maneira que os dois grupos avaliam um testemunho. Com frequência os descrentes não conseguem enxergar por que determinados testemunhos mexem tanto com os eleitos, se a narrativa apresentada é praticamente idêntica a tantas outras, com pequenas variações. Para os não crentes todos os testemunhos são iguais e para os crentes cada um deles pode ser uma experiência inesquecível, a ser citada e elogiada entre eles, mesmo que se trate da mesma velha história, recontada com novos personagens.
O ponto de desencontro entre ateus e céticos e os crentes é que a narrativa verbal ou o conteúdo literário do testemunho pouco ou nenhum valor têm em si. O testemunho só tem significado enquanto rito e dentro da congregação que o entende como tal, mesmo que não lhe dê este nome.
Como rito, não é a forma que importa, mas os conteúdos compartilhados, que podem ser emocionais, intuitivos, simbólicos ou espirituais (para quem prefere chamá-los assim).
Nos testemunhos dos crentes, os conteúdos compartilhados produzem catarse, uma catarse coletiva que cria e reforça a unidade do grupo, mas também tem profundo alcance individual, pois em sendo a narrativa formatada segundo um padrão, produz grande empatia entre o autor do testemunho e quem o ouve, já que a padronização facilita que o ouvinte se coloque no lugar do narrador. Entre os crentes, os testemunhos reforçam a identidade coletiva definida por serem todos “pecadores alcançados pela graça que aceitaram”, estabelecendo uma hipotética igualdade fraterna, base para a coesão do grupo.
A dinâmica do rito de testemunho e dos ritos crentes em geral segue motivações ancestrais, repetidas em quase todas as organizações humanas cuja existência dependa dos vínculos entre seus membros.
Um exemplo é a Maçonaria, cujos rituais de iniciação colocam o aspirante em situações que o próprio jamais se veria por escolha própria. O inusitado do rito, que visa produzir emoções fortes e exclusivas no iniciando, estabelece um vínculo deste com a comunidade que pretende abraçar, já que a única razão para aceitar submeter-se é saber que compartilha das mesmas emoções que todos os maçons, mesmo os mais graduados, um dia também manifestaram. É a comunhão de emoções íntimas que faz com que um conjunto de práticas cujo significado formal ou simbólico é completamente alheio ao neófito seja aceito em renúncia ao seu entendimento pessoal, numa aposta de que a congregação onde pleiteia a entrada é mais sábia do que ele individualmente.
Tanto o maçom iniciante quanto o crente testemunhante manifestam atos de Fé, cujos significados não são explícitos ou individuais, existindo e se manifestando num entendimento coletivo e subjetivo. Ou seja, a percepção e aceitação pública do mito perante a comunidade que tem aquele mito como fundamento.
Capítulo 9 — Mitos, Ritos e Símbolos III
Símbolos
Símbolos são representações de significados atribuídos ou intuídos que vão além daqueles inerentes às formas que os expressam.
Como os símbolos são a base de todas as formas de linguagem e as linguagens são a base de nossos pensamentos, entender os crentes, sua linguagem e como pensam exige o conhecimento e entendimento de seus símbolos.
Existem disciplinas científicas especializadas em estudar os símbolos, como a semiótica. Reiterando o que foi dito no capítulo 7 deste Pequeno Manual, não é o objetivo ou está ao alcance do autor aprofundar-se nos complexos desdobramentos técnicos deste assunto, mas apenas destacar e exemplificar a importância dos símbolos para se compreender a cultura e comportamento de um grupo.
Um fundamento comum para todas as vertentes cristãs, sejam a católica romana, ortodoxas, a miríade de denominações crentes ou facções dissidentes destas é o seu símbolo máximo e emblemático — Jesus de Nazaré.
Uma característica fundamental do cristianismo é que todos os seus significados são representados por um homem que, na condição de símbolo, extrapolou a condição humana.
A particularidade inédita do simbolismo cristão quando comparado aos das religiões pagãs com narrativas similares é o dogma niceiano da dupla natureza do Cristo — humana e divina — que criou um símbolo que representa simultaneamente Deus e o Homem, aproximando organicamente os dois.
Partindo deste símbolo máximo comum, a simbologia crente se diferencia das demais simbologias cristãs e adquire características próprias dentro da cosmovisão definida pelo mito da inerrância e suficiência bíblica comentadas no capítulo 7 deste Pequeno Manual.
Dentro desta cosmovisão mítica, cada um dos símbolos crentes e seus significados precisam estar direta ou indiretamente associados a passagens bíblicas que lhes deem significado doutrinário. Isto cria um paradoxo circular, pois para entender a Bíblia é necessário primeiro conhecer o significado de seus símbolos.
Uma outra particularidade dos crentes com relação aos símbolos é que suas doutrinas estabelecem taxativamente a repulsa a qualquer forma de idolatria, o que faz com que símbolos visuais ou seja, imagens com significados atribuídos ou intuídos, sejam tratados com cautela dentro das congregações.
Mesmo assim, as imagens simbólicas fazem parte da história do cristianismo, sendo uma das mais tradicionais o peixe:
Peixe em grego é ICHTHUS, de onde os cristãos primitivos tiraram o acrônimo Iesus Christus Theou Yicus Soter, que quer dizer: Jesus Cristo filho de Deus Salvador.
A maioria dos crentes acata este símbolo sem restrições, respaldados pela tradição cristã primitiva e por passagens do Evangelho como a de Mateus 4:19, onde Jesus convoca seus futuros seguidores com a promessa de fazê-los pescadores de homens.
Por um modismo atual, o ícone do peixe cristão primitivo se tornou um símbolo de pertencimento para os crentes modernos, o que explica sua exibição por eles em porta-malas de automóveis, adesivos, pingentes, pins ou outros modos de ostentação, que dão ao símbolo a função de atestar que seu portador é membro da irmandade representada por ele.
Símbolos de pertencimento são sinais da tribo, que permitem que seus membros se identifiquem entre si como tais.
Se os símbolos de pertencimento identificam o membro perante a tribo, os símbolos-estandartes representam a tribo perante os membros e perante os outros, ou, no entendimento dos crentes de si próprios, representam o povo de Deus perante os eleitos e perante os ímpios.
Uma rápida observação dos símbolos-estandartes de três agremiações crentes de vertentes distintas do protestantismo destaca alguns elementos e significados comuns:
A imagem simbólica recorrente nos três é a chama, que representa o Espírito Santo. As Assembleias de Deus incluíram uma estilização do peixe-ICHTHUS na forma da letra “a”, enquanto uma Bíblia aberta consta da apresentação visual dos adventistas. A cruz, obviamente, dispensa explicações.
Além do significado de cada elemento, a composição dos símbolos revela algumas informações adicionais sobre as agremiações que representam.
A Igreja Adventista é uma instituição muito mais recente que as denominações protestantes históricas, mas prefere classificar-se neste grupo (independentemente da aceitação das históricas). Refletindo esta tradição reivindicada, seu símbolo segue as antigas regras de composição dos brasões da Heráldica, onde cada componente representa um evento e o conjunto resume os valores e crenças da entidade representada.
Já a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal conhecida por seu conservadorismo e rejeição ao mundano, usa uma identificação visual desenhada segundo os padrões das modernas logomarcas comerciais, numa evidência de que há limites para a exclusão do temporal mesmo nos mais severos bastiões crentes.
Os significados do Peixe, Cruz, Chama e Livro resumem em apenas quatro símbolos os pontos principais das doutrinas que representam:
Significado do símbolo Peixe: Jesus de Nazaré como filho de Deus e salvador dos homens;
Significado da Cruz: Salvação da alma através do sacrifício vicário do Cristo;
Significados da Chama: O Espírito Santo como presença viva de Deus junto aos homens;
Significado do Livro: A Bíblia como guia inerrante e suficiente da vida cristã.
O símbolo Chama também pode agregar significados subliminares como a lembrança do fogo do inferno destinado aos ímpios e apóstatas.
Como esta pequena amostragem de símbolos visuais crentes demonstra, as crenças fundamentais de um grupo podem ser identificadas em alguns poucos signos recorrentes, o que facilita a compreensão de sua cultura.
A dificuldade em entender os crentes pode ser decorrente também do fato de a cultura deles ser notavelmente pobre em símbolos visuais, obedecendo à referida aversão doutrinária a tudo que possa estimular a idolatria de alguma forma.
Se a cultura crente é pobre em símbolos visuais — fortes em significados cognitivos —, é rica em outras simbologias, fortes em significados emotivos. Um exemplo é a música, particularmente os hinos, cujos ritmos, melodias, arranjos e orquestrações têm significado simbólico emotivo que extrapola o ditado pelas letras, quase sempre variações de pouco valor literário ou poético sobre algum tema bíblico.
Os significados simbólicos da música para os crentes é interessante, pois denominações tradicionais tendem a preferir hinários inspirados nas cantatas e oratórios barrocos, enquanto pentecostais e neo-pentecostais (com exceções) são menos específicos (e menos exigentes) quanto ao gênero, variando do clássico à música popular suburbana (brega).
Para variar um pouco nas colocações, uma das coisas que os próprios crentes não entendem sobre eles mesmos é que a celeuma sobre o white metal — a esquisita versão crente do rock pesado — dever ou não ocupar os palcos das igrejas provém exclusivamente dos significados simbólicos emotivos que a música transmite durante os cultos. Como tais significados não são cognitivos, as discussões a favor e contra giram em torno de citações doutrinárias e bíblicas que costumam levar a lugar nenhum.
O tema dos mitos, ritos e símbolos como portas de entrada para o entendimento da cultura dos crentes não termina nestes três capítulos específicos, que devem ser tomados como uma introdução ao assunto dentro deste Pequeno Manual.
Capítulo 10 — Novo Nascimento e Vidas Transformadas
Um complexo de mitos, ritos e símbolos cuja análise é particularmente necessária para entender os crentes é o que orbita a doutrina do Novo Nascimento e o alegado poder transformador de vidas dele oriundo.
A origem do dogma está na passagem do Evangelho de João que narra o diálogo entre o fariseu Nicodemos e Jesus, no qual este decreta que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus.
Para os católicos romanos o “nascer de novo” é uma alusão ao batismo, por conta da citação “nascer da água” constante do mesmo diálogo.
Para os crentes o nascer de novo é a conversão ao cristianismo protestante, elevada por rito a um patamar superior ao de simples opção por determinada crença religiosa em detrimento de outra, passando a ser entendida como símbolo da elevação e regeneração espiritual dos eleitos que por conta das tais passam a fazer parte do clube dos santos com todos os direitos reservados àqueles que são sal da terra e luz do mundo. Pelo menos, na opinião deles próprios.
O nascer de novo é o mais importante rito de iniciação e passagem dos crentes, já que o reconhecimento congregacional da conversão é, em primeira instância, aquilo que os define e faz com que sejam aceitos e acolhidos como irmãos por sua comunidade.
Só que o rito não se esgota em si. Como a maioria dos ritos ele traduz na forma de cerimônias e regras os mitos formadores da cultura dominante. O novo nascimento vai além e cria sua própria mitologia.
Como na maioria dos ritos crentes, o testemunho é componente indispensável à sua dinâmica e objetivos. Como os testemunhos são a reinterpretação das experiências pessoais do narrador a partir das expectativas coletivas da comunidade da qual busca reconhecimento e aceitação, tornam-se antes mitos congregacionais do que relatos factuais.
Os testemunhos de conversão sempre terão incutidos em si o objetivo de mostrar aos membros da igreja que os ouvem que o narrador passou pela experiência mística do novo nascimento e assim colocou um pé no lado de dentro da porta estreita destinada aos salvos.
Este reconhecimento da passagem é indispensável para o crente, já que a interpretação literal da passagem bíblica referente entende o novo nascimento como pré-requisito obrigatório para a salvação. Como a salvação segundo o dogma luterano é consequência exclusiva da fé cristã, o novo nascimento é tido como o efeito transformador que esta fé provoca naquele que a aceita.
Assim, para os crentes, quem não passou pelo novo nascimento e seu efeito transformador não é, de fato, um deles. É esta dinâmica que cria a mitologia das vidas transformadas.
Essa mitologia é facilmente identificada por seus dois extremos, o da transformação sutil, constituído dos relatos da elevação de espírito do até então Homem Natural (descrito no capítulo 3 deste Pequeno Manual), e o da transformação espetacular, melhor representado pelo já folclórico personagem da canção que era um bêbado e vivia drogado até que encontrou Jesus.
Ou seja, quando os crentes falam de vidas transformadas pelo novo nascimento — que quer dizer as mudanças que a conversão promoveria na vida dos neófitos —, podem estar falando tanto de aspectos que entendem como espirituais, reconhecíveis apenas no seio da irmandade doutrinária, quanto de mudanças radicais de conduta, frequentemente narradas nos testemunhos dos ex-alguma-coisa, pessoas que abandonaram práticas condenadas pela sociedade ou pelas doutrinas e costumes crentes por conta de terem nascido de novo.
Um exemplo recorrente e interessante dos alegados efeitos transformadores sutis do novo nascimento são os testemunhos que falam do surgimento no renascido de uma súbita e inexplicável capacidade de entender e interpretar textos bíblicos que antes lhes eram absolutamente ininteligíveis.
Sem grandes alardes o testemunhante apresenta à irmandade a prova de que sua conversão é sincera a partir da única fórmula aceita — o cumprimento de um preceito bíblico que a referende. No caso da aquisição miraculosa da competência para a exegese, a comunidade crente atesta que o convertido somou-se aos aptos a discernir espiritualmente, como definido por Paulo em I Coríntios, cumprindo assim o requisito.
Quando os crentes aprovam o novo nascimento de um convertido, passam a tê-lo não apenas como um novo homem, que deixou sua vida antiga para trás para viver sob as regras de fé e conduta de suas doutrinas. Muito mais além, proclamam que ele agora é um homem novo, dotado do Espírito Santo e por isso superior à criatura que tinha sido até então.
O termo superior jamais é usado pelos crentes, por ferir a ordenança da humildade, um de seus pilares doutrinários, mas é o adjetivo mais adequado para qualificar como veem a mudança de status espiritual que dizem trazido pelo novo nascimento. Esta superioridade será entendida por muitos crentes como primazia moral ou espiritual sobre qualquer um que não professe a mesma fé que eles, embora nem sempre tal presunção seja apoiada pela fé que professam, constituindo antes lapsos comportamentais de indivíduos que falha moral da doutrina.
Nestes lapsos comportamentais temos um dos pontos de atrito dos crentes com ateus, agnósticos e céticos, com cada grupo vendo o outro como arrogantes dogmáticos incapazes de enxergar o óbvio, por conta de ambos os lados verem-se como possuidores de algum tipo especial de discernimento que falta ao outro.
Mas os testemunhos de novo nascimento e vidas transformadas mais populares são os espetaculares, relatados principalmente pelos ex-alguma-coisa convertidos, que atestam veracidade radical àquela doutrina ao se proclamarem não apenas regenerados, mas literal e verdadeiramente renascidos.
Um caso particularmente ilustrativo e bastante recontado no folclore crente é o da presidiária condenada, que ao se declarar convertida solicitou anulação de sua sentença, alegando que os crimes que lhe eram imputados foram cometidos por outra pessoa, sendo injusto que ela, nascida de novo, pagasse pelos erros de alguém que deixara de ser ao passar pelo novo nascimento.
Não é de se estranhar que presos condenados se apeguem a qualquer recurso disponível para melhorar sua situação. Estranho é ver tal argumento ser debatido nas comunidades crentes, onde se questiona até que ponto o novo nascimento dá a quem passa por ele o direito de reivindicar isenção de responsabilidade por seus atos prévios ao evento. Diga-se, por questão de justiça, que a maioria dos crentes conclui prontamente que presidiários “renascidos” devem sim cumprir suas sentenças, o que não torna menos estranho que reivindicação tão absurda seja levada a sério.
Mas as alegações espetaculares de vidas transformadas cumprem um objetivo das igrejas crentes que não pode ser alcançado pelas alegações sutis, que, como citamos acima, se destinam apenas ao seio da irmandade doutrinária.
Toda vez que um ex-alguma-coisa testemunha como deixou de ser bêbado, drogado, bandido ou todas as opções anteriores, não apenas reforça os laços que unem a irmandade doutrinária, mas também se torna instrumento útil de propaganda e marketing das igrejas crentes, que ostentam o número de ex-alguma-coisa lá recuperados como prova de que aquela congregação em especial é particularmente eficiente em seus contatos com o divino e comprovadamente eficaz quanto aos resultados obtidos destes contatos.
Existe uma concorrência feroz entre as miríades de denominações crentes, sendo constante o trânsito de fiéis de uma igreja para outra, o que força principalmente as pequenas congregações a empenharem esforços para reter seus próprios fiéis enquanto tentam angariar novos.
Neste cenário, as vidas transformadas espetacularmente representam um valioso diferencial no mercado, que por isto mesmo são divulgadas com a publicidade necessária.
Deve-se observar, também por questões de justiça, que muitas igrejas mantêm trabalhos sérios de recuperação de viciados. Ocorre de casos graves de dependência serem controlados pelo tratamento dado por instituições religiosas após o adicto ter passado sem sucesso por outros tipos de clínicas de recuperação.
Estas recuperações, entretanto, nunca se apresentam como uma transformação espetacular e milagrosa, sendo nos casos bem sucedidos o resultado da força de vontade do dependente e do esforço árduo e abnegado dos voluntários que o apoiam, atuando sob métodos reconhecidos (geralmente variações dos doze passos dos Alcoólicos Anônimos), que na maioria das vezes amargam tremendos esforços e muitos fracassos para cada adicto recuperado.
Se os testemunhos crentes dão conta de que o novo nascimento transforma vidas de modo perceptível através de seus efeitos exteriores, falam também de mudanças profundas no íntimo do renascido e transformado, geralmente descritas como sensações de grande euforia e autoconfiança, que teriam surgido do nada em pessoas que até então se sentiam deprimidas e derrotadas. Não é do objetivo ou competência deste Pequeno Manual questionar a natureza de experiências íntimas, cujo julgamento é possível apenas na consciência de seus protagonistas. Mas para efeito comparativo, são muito comuns relatos similares de sensações de grande euforia e autoconfiança nos mais diversos ritos de iniciação ou passagem, alguns sem nenhum tipo de ligação com qualquer forma padrão de religiosidade, como são os casos estudados das reuniões e seminários da empresa americana de marketing multi-nível Amway, nos quais muitos de seus distribuidores iniciantes manifestavam verdadeiros estados de êxtase, enlevados pelas grandes promessas reservadas àquela casta de escolhidos.
Capítulo 11 — A Reengenharia do Eu
A dificuldade em entender os crentes, em geral, não surge da complexidade de suas doutrinas ou padrões comportamentais, que são, em seus princípios, extremamente simples e óbvios.
É na experiência ritual do Novo Nascimento (observada no capítulo anterior) que os crentes se tornam pouco compreensíveis pelos que não o são, embora por motivos diferentes daqueles alegados pelos próprios.
Enquanto os eleitos têm o Novo Nascimento como uma elevação mística que os redime, justifica e regenera espiritualmente, é certo que o rito de passagem só se completa quando o neófito aceita e assume a cosmovisão da doutrina que abraça, o que, por si só, não os torna mais ou menos entendíveis. Basta conhecer as premissas desta concepção de mundo para desdobrar as conclusões. E as premissas da cultura crente são suficientemente conhecidas.
Muito além das premissas está o fato de que antes de o neófito crente reformular sua concepção de mundo, reformula sua concepção de si mesmo, através de uma Reengenharia do EU na qual renuncia a todas as suas autodefinições e as substitui por uma única — a de pecador.
Definir-se como pecador é o ponto de partida para que o iniciando se torne permeável e aderente aos preceitos da doutrina imediatamente derivados:
- Como pecador, merece o inferno eterno de sofrimentos infinitos;
- Todas as suas virtudes como coragem, amor, bondade, justiça, compaixão, esperança e seus atos que as expressam deixam de possuir qualquer valor diante de um único pecado cometido, que, sozinho, suprime a relevância de todo o BEM que tenha feito ou fará em vida;
- Se for calvinista, acrescente à lista ter-se como um grande verme sujo e grosseiro.
Quem não se acha um grande verme sujo e grosseiro, ou acredita que aquela vez em que arriscou a vida para salvar alguém que estava se afogando deveria pesar mais que o livro não devolvido da biblioteca, terá dificuldades em entender os crentes.
Aos ditos “do mundo”, parecerá contraditório que gente com opinião tão deprimente sobre si própria evoque doutrinas que as classificam no nível das lombrigas como boas novas do Céu, pelas quais devem todos se regozijar, sob pena de terem destino pior que o das Áscaris caso não o façam.
Para entender os crentes é preciso analisar esta e outras situações que lhes são peculiares em seus significados simbólicos, como definidos pelos mitos e ritos que representam.
Declarar-se “apenas um pecador miserável”, merecedor de todas as punições e indigno de qualquer coisa boa, indica que o neófito assumiu o julgamento de si próprio que é indispensável à assimilação da doutrina da salvação pela graça, que traduz exatamente isto.
Uma atenção a ser prestada é que a Reengenharia do Eu não é um exercício de humildade. A declaração de ser “apenas um pecador miserável” é o primeiro ato da vida de um “nascido de novo” e, portanto, regenerado segundo os ditames do mito. Antes de estar assumindo uma condição de inferioridade, está anunciando seu abandono desta condição.
Atitude semelhante é observável na maioria dos ritos de passagem, da iniciação Maçônica ao trote universitário, nos quais o iniciando se coloca em condição de inferioridade junto aos membros mais antigos da irmandade, como marco inicial de sua elevação a um grau superior de algum tipo.
Mas se há semelhanças na forma, o conteúdo da Reengenharia do Eu que os crentes se promovem é mais complexo do que permitiria a comparação com os exemplos citados acima.
De certa forma, eles identificam suas vidas com as mesmas épocas dos mitos formadores de suas doutrinas. Sua existência seria marcada pelo nascimento, pecado e novo nascimento, como a existência da humanidade o seria pela criação, queda e redenção, e a do Messias pelo nascimento, morte e ressurreição.
Um outro paralelo entre a Reengenharia do Eu e as variantes doutrinárias que a motiva é que todas são simplificações extremas dos conteúdos que operam. Da mesma forma que Lutero reduziu séculos de teologia e filosofia cristã a duas palavras — sola scriptura —, a Reengenharia do Eu reduz toda a complexidade e multiplicidade da natureza humana a duas palavras — pecador miserável.
Destaque-se que tal simplificação colide com o ideal de pessoa humana formatada justamente pela filosofia cristã, que praticamente criou a noção de indivíduo dotado de dignidade em si mesmo, definição que nos afasta um tanto dos anelídeos e platelmintos.
Apresentar o Novo Nascimento como um processo de re-escalonamento de valores, aqui chamado de Reengenharia do Eu, por certo será entendido pelos crentes como mais uma manifestação de quem “não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura”, o Homem Natural discutido no capítulo 3 (isto se não for entendido por eles como manifestação de coisa pior).
Independentemente dos nomes, o re-escalonamento de valores ocorre com aumento ao máximo da importância dada ao pecado e à condição de pecador e redução a quase zero da significância relativa das virtudes humanas e dos atos por elas motivados. Isto é fato, quer estejam suas causas ligadas à predestinação divina, ao livre-arbítrio guiado pelo Espírito ou a fatores culturais, sociais e psicológicos.
Capítulo 12 — Esaú e Jacó
Os que leram este Pequeno Manual até aqui podem interpretar que as observações sobre como entender os crentes terminam por igualá-los todos em um amálgama genérico, do qual são pinçadas as semelhanças e ignoradas as diferenças.
Uma interpretação mais correta foi dada no capítulo 7, quando dito que “Entender um grupo é, essencialmente, entender sua cultura.” e “Dada a fragmentação dos crentes em uma miríade de denominações, muitas delas subdivididas em diversas vertentes, o olhar externo as identifica, a princípio, como um conjunto não uniforme de subculturas e microculturas derivadas da tradição cristã, semelhantes entre si por alguns pontos em comum e diferenciadas umas das outras por muitos pontos de divergência.”
O entendimento, portanto, não requer apenas a identificação das semelhanças e diferenças reinantes no grupo observado, mas também e principalmente dos modos como semelhanças e diferenças interagem e convergem para uma identidade comum. Ou, em outras palavras, entender um grupo é descobrir sua unidade a partir de sua diversidade.
Entre os crentes a identidade comum é explicitada socialmente no costume de tratarem-se entre si por “irmãos”. Pode ser exagerado analisar as diferenças entre estes irmãos a partir de uma analogia bíblica com Caim e Abel, mas parece-nos suficiente tomar por comparativo Esaú e Jacó, que partem da mesma origem, entram em conflito, se afastam e se reaproximam conforme o momento de suas narrativas.
De modo semelhante os crentes se afastam e entram em conflito entre si por conta de suas diferenças, cujas principais são:
Teológicas: Calvinistas e Arminianistas, Fundamentalistas e Liberais;
Origem: protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, independentes e neocristãs,
Denominacionais: Dezenas de milhares de denominações;
De usos e costumes: Conservadores e modernistas.
Cada uma destas divisões pulveriza-se em facções, dissidências, variantes, modismos e fatores individuais.
Como há livre combinação entre as diferenças, crentes de uma mesma denominação podem divergir quanto à teologia, denominações da mesma origem não concordarem quanto a usos e costumes ou determinados modismos dividirem os membros de uma mesma congregação.
Tenho as diferenças teológicas como mais significativas, particularmente a controvérsia histórica que, dentre aqueles com conhecimento teológico mínimo, divide os crentes em Calvinistas e Arminianistas.
Os Calvinistas têm por fundamento os cinco pontos formulados por Calvino e conhecidos pela sigla TULIP, das iniciais em Inglês de total depravação, incondicional (unconditional) eleição, limitada expiação, irresistível graça e perseverança dos santos.
O resumo desta doutrina pode ser expresso no nome de uma flor, mas não é nem um pouco romântico, pois prega que o homem é um ser totalmente depravado, incapaz de optar livremente pelo BEM e assim é o próprio Deus quem desde antes da fundação do universo predestinou de modo irresistível seus eleitos para a glória eterna e os demais para uma viagem sem escalas para o inferno. Por esta doutrina o sacrifício vicário de Jesus de Nazaré teria sido destinado exclusivamente aos eleitos; os demais, literalmente, danem-se: a tal de expiação limitada.
Para os Calvinistas o livre-arbítrio humano fere a soberania divina, logo, entendem que o homem não tem livre-arbítrio coisa nenhuma e seríamos todos apenas marionetes da vontade divina.
A melhor ilustração do Calvinismo é a Teologia do Verme, que classifica os humanos como gusanos nojentos, que devem se dar por satisfeitos com qualquer coisa que venha de Deus, incluído aí o estranho hobby dele de criar seres vivos e conscientes com o único propósito de torturá-los pela eternidade afora.
Já os seguidores de Arminius (teólogo holandês do século XVI) costumam ser tidos como opostos dos Calvinistas e bem que gostariam de sê-lo, mas isto não é exatamente correto, já que esta doutrina, ao contrário do que muitos pensam, não nega a predestinação divina dos eleitos, apenas tenta conciliá-la com o livre-arbítrio humano, que os Calvinistas rejeitam e os Arminianistas defendem. Só que aí o bicho pega.
Os Arminianistas que creem no dogma da inerrância e suficiência das Escrituras não podem negar as referências bíblicas à predestinação, mas se recusam a aceitar a tese Calvinista de que Deus tenha predestinado seres humanos ao inferno sem lhes dar qualquer oportunidade de redenção, reservada apenas para uma panelinha pré-selecionada.
O dilema dos Arminianistas é a escolha entre crer em um Deus cruel, negar o dogma da inerrância e suficiência bíblica ou tentar conciliar o aparentemente inconciliável — predestinação e livre-arbítrio.
Escolheram a última opção, o que torna as facções fundamentalistas do Arminiamismo bastante vulneráveis às críticas dos Calvinistas, que os acusam de desvirtuar as Escrituras para tentar tirar delas uma versão light de Deus, que lhes seria mais apetecível e digerível. Uma espécie de fundamentalismo a la carte, poderiam dizer.
O interessante desta divisão dos crentes entre Calvinistas e Arminianistas é que ela não é apenas faccional, é também pessoal, já que muitos crentes amargam um conflito interno permanente sobre por qual das duas optar, chegando vários a mudar de posição mais de uma vez, conforme suas dúvidas favoreçam esta ou aquela doutrina em determinados momentos.
Este dilema tem sua razão de ser. A maioria dos crentes é cooptada através de um discurso religioso romântico e positivo, que fala de Fé, esperança, salvação, paraíso, regeneração, fraternidade, cura e outras coisas que as pessoas gostam de ouvir. Como as pessoas não gostam de ouvir que não passam de vermes repulsivos, raramente a abordagem inicial de um prosélito crente se baseia na retórica Calvinista.
Este pragmatismo proselitista cria uma contradição teológica muito difícil de resolver no meio crente, que é o uso do discurso Arminianista como ferramenta de cooptação mesmo quando a base doutrinária da congregação é Calvinista.
Outro problema é que quanto mais o Arminianista mergulha no fundamentalismo e literalismo bíblico, mais se convence do Deus terrível dos Calvinistas, tendo que aceitar que suas concepções de BEM, justiça e amor eram apenas ilusões de sua mente de verme ou mandar às favas o literalismo e o fundamentalismo.
Esta é uma escolha simples para o observador externo isento, mas muito difícil para o crente imerso nas doutrinas fundamentalistas.
Por falar no observador isento, é reação dele esperada que fique estupefato com a disposição dos Calvinistas em prestar adoração a um ser supremo que é a personificação do supremo sadismo. Mesmo porque terá dificuldade em conciliar o cerne da mensagem cristã — amor e perdão — com um potentado celestial que predestina suas criaturas a ter suas entranhas eternamente roídas e sofrer outros desconfortos igualmente indesejáveis.
Alguns Calvinistas ostentam um longo discurso que tenta justificar moral, lógica e teologicamente suas teses, derivando a premissa “tudo que vem da vontade de Deus é moralmente bom e justo, por definição”, mesmo que esta vontade, segundo algumas vertentes, sempre que lhe apeteça mande bebês recém nascidos e não eleitos queimar no inferno.
Mas a maioria dos crentes não gosta de discursos teológicos longos, assim o principal atrativo que o Calvinismo lhes oferece é a promessa “uma vez salvo, salvo para sempre”, a tal da perseverança dos santos da tulip, segundo a qual é impossível para os eleitos perderem a salvação, pois a irresistível predestinação divina os manteria na linha, quer queiram ou não.
Como o povo gosta mesmo é de segurança, os Calvinistas ganham aí um tento sobre os Arminianistas, que pregam que o crente que não perseverar na Fé Cristã pode perdê-la e, em consequência, terminar nas profundezas, aquelas onde o bicho que o rói nunca morre.
Para muitos Calvinistas, as implicações morais da predestinação se tornam uma preocupação menor diante da garantia doutrinária de que, haja o que houver, a parte ruim da coisa é reservada aos outros e não a eles.
Visto assim, se os crentes explicitam socialmente sua identidade comum se tratando entre si por “irmãos”, há mais que uma controvérsia teológica separando Esaú e Jacó. Eles acreditam em deuses diferentes ou em frações diferentes do mesmo Deus.
Capítulo 13 — S s (A Somatória das Dispersões)
No capítulo 12 deste Pequeno Manual comentamos que entender um grupo é descobrir sua unidade a partir de sua diversidade, seguindo com a discussão sobre o que torna os crentes difíceis de ser entendidos pelos que não o são. Tratamos neste do que torna os crentes difíceis de ser entendidos pelos que o são.
Apartados da unidade na Babel de suas dispersões, se confundem na falta da linguagem única que lhes permitiria se compreender entre si como um só povo.
A dispersão é intrínseca ao protestantismo, que surgido da Reforma contra o centralismo teológico e administrativo da Igreja Católica Romana, nunca conseguiu substituir aquele centralismo por outro fator de unidade capaz de equilibrar o potencial dispersor da sola scriptura.
O efeito é a fragmentação do protestantismo em dezenas de milhares de denominações, divididas em centenas de milhares de facções também subdivisíveis até chegar ao fiel individual, que em última instância tem autoridade reconhecida por sua própria igreja para interpretar a Bíblia por si só. Dada esta prerrogativa, basta o exegeta solitário convencer mais um ou dois de que sua leitura bíblica é melhor que as alternativas e obterá quórum para fundar uma nova assembleia divinamente assistida, conforme interpretação de Mateus 18:20.
A dinâmica da dispersão dos crentes é análoga à das mitoses celulares. Nestas as divisões internas no núcleo da célula terminam por criar uma nova. Do mesmo modo, as divisões internas no núcleo de igrejas crentes resultam em novas igrejas, variantes “renovadas” ou “independentes” da denominação-mãe.
Nas mitoses denominacionais, líderes de uma congregação estabelecida decidem partir para carreira solo e fundam nova, e própria, igreja, contando com sua capacidade de transferir para a recém fundada parte expressiva dos fiéis que se alinhavam com ele na antiga. Algo semelhante ao que acontece no mundo corporativo, quando um bom vendedor muda de empresa e leva para a nova parte dos clientes que atendia.
Se a diversidade dos crentes é absoluta e evidente, sua unidade é relativa e difusa. Sua identidade comum como cristãos reformados que têm a Bíblia como regra de Fé e prática é requerida por uma miríade de agremiações cujos extremos têm pouquíssimo em comum, tanto no aspecto teológico-doutrinário quanto no sócio-comportamental de orientação religiosa.
Uma resultante desta somatória das dispersões são os chamados estereótipos. Estereótipos não são, necessariamente, generalizações falsas sobre determinado grupo. Antes, tendem a ser generalizações que fixam aspectos do grupo que atraem mais atenção, em detrimento de outros mais sutis e representativos da identidade, que podem passar despercebidos.
No caso dos crentes, o estereótipo mais comum é a imagem pública dos pentecostais dos anos 1950 a 1970: homens e mulheres em roupas sisudas, de Bíblia embaixo do braço, obedientes às proibições congregacionais ao consumo de álcool, fumo, jogos, cinema, televisão, música e dança secular e, claro, sexo fora do casamento.
Tal estereótipo, mesmo reconhecido como tal, nunca correspondeu às facções não pentecostais. Com o tempo a maioria dos pentecostais também abrandou suas regras de usos e costumes, revogando exageros como a associação da virtude feminina à preservação e comprimento de seus pêlos corporais.
A partir dos anos 1980, a ascensão do neopentecostalismo atraiu multidões de neófitos com promessas de um evangelismo popular, curas milagrosas, prosperidade financeira e cultos animados, sem impor aos seus membros a disciplina rigorosa que homogeneizava seus pares pentecostais.
Junto com a explosão dos neopentecostais se deu a implosão do estereótipo crente. Quanto mais vertiginosamente cresciam em número, menos se destacavam na paisagem, restando a Bíblia sob o braço como último sinal da tribo.
Como entender um grupo é descobrir sua unidade a partir de sua diversidade, superada a referência fácil — e pouco acurada — do estereótipo, a busca da unidade explicativa se dirige aos citados aspectos mais sutis que melhor representariam o que procuramos entender.
Se, no geral, os crentes de fato declaram rejeitar o que é “do mundo”, se medem por uma hierarquia espiritual, proclamam rejeitar o Homem natural, se submetem ao julgamento de sua congregação, relevam contradições que conflitam suas crenças, compartilham mitos, ritos e símbolos, se creem transformados e nascidos de novo, então este próprio Pequeno Manual reconhece neles uma identidade comum.
O aspecto sutil é que enquanto os fatores de dispersão são intrínsecos à miríade de microculturas e subculturas dos crentes, seu principal fator de coesão provém de uma cultura que lhes é extrínseca: a da Igreja Católica Apostólica Romana.
Cristãos reformados são, historicamente, cristãos não católicos. Daí uma das poucas coisas — talvez a única — com que praticamente todas as denominações e facções crentes concordam entre si: não importa que o livre exame possa produzir infinitas interpretações da Bíblia, desde que em questões estratégicas difiram do magistério católico o suficiente para salvaguardar sua identidade.
A dispersão dos crentes pode incluir doutrinas tão díspares entre si como o calvinismo fundamentalista e a teologia da prosperidade, cujos adeptos constantemente acusam o outro de heresia ou falta de espiritualidade, mas, tacitamente, se reconhecem como posicionados no mesmo lado da cerca que divide os cristãos.
Para o crente, cruzar esta fronteira significa deixar de sê-lo. Ou seja, dentro dos elásticos limites da interpretação bíblica, as doutrinas, regras e costumes dos crentes podem seguir qualquer caminho, menos os que levam a Roma.